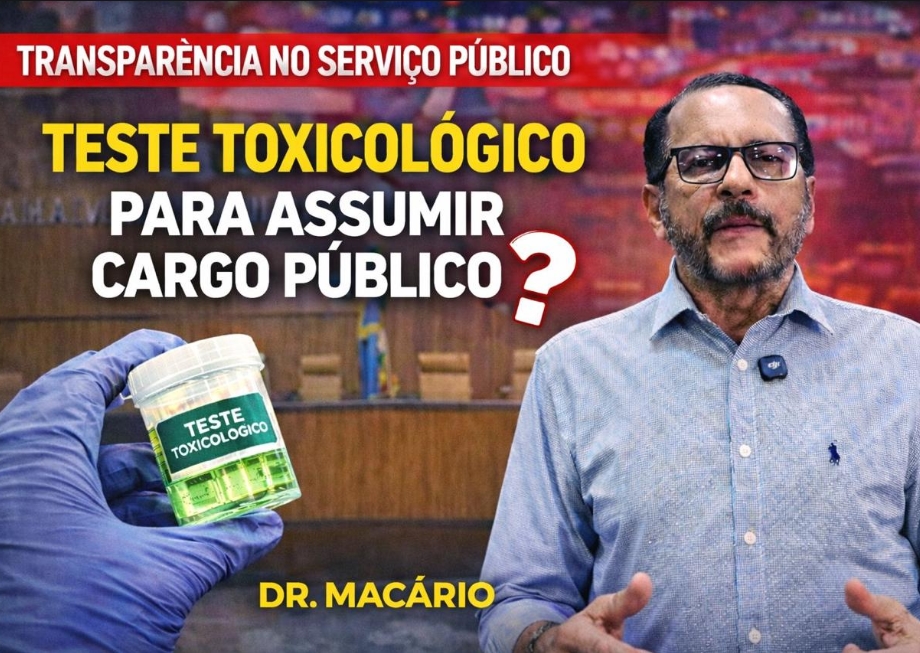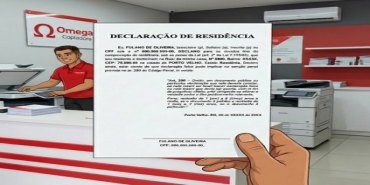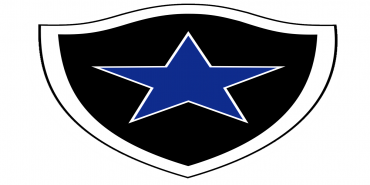ÚLTIMAS
-
UTILIDADE PÚBLICA: IML busca familiares de idoso que morreu na policlínica Ana Adelaide
-
URGENTE: Policial penal é morto após confronto com o BPTAR
-
ESQUEMA CRIMINOSO: Servidor é afastado por desvio de R$ 13 milhões na prefeitura
-
VÍDEO: Motorista de Fiat Strada foge após acidente e deixa a própria placa para trás
-
GRAVE: Motorista de BMW avança preferencial e deixa motociclista desacordada
-
EVENTO: Inscrições abertas para Olímpiadas Madeirão dos Servidores Municipais 2026
-
Publicação Legal: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AROLDO DUARTE (ABAD)
-
SEMANA DO CONSUMIDOR: Crédito consciente pode ser aliado no combate à inadimplência
-
: Os clubes mais bem-sucedidos da história do Campeonato Carioca
-
DRAGAGEM DE RIOS: Serviço garante desenvolvimento e segurança para comunidades ribeirinhas
Meu filho transformou-se em um Boto-Cor-de-Rosa - por Simon O. dos Santos

Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
Estou aqui meu filho, deitada neste leito de hospital, e mal consigo respirar, dói-me os pulmões, dói-me os ossos e uma ânsia estranha percorre-me o corpo, como se fosse um aviso da morte. Sei que ela tem sido uma companheira de jornada, sabedora, que nesta vida eu só não aguento peia, o resto pode vir, principalmente se tiver farinha seca, d’água, nunca gostei, tem gosto e cheiro de azedume.
Já vivi muito e há tempos ultrapassei a ladeira dos cem anos, agora é hora de lhe contar que dos dezessete filhos que pari, já enterrei quinze, além de genros e noras, netos e bisnetos, amigos e vizinhos, conhecidos e desconhecidos, e até o traste do meu marido enterrei.
Serei enterrada pela única filha que ainda não sentiu o sopro derradeiro da morte, os demais estão todos em campo santo, com exceção do meu primogênito, que passeia transubstanciado pelas profundas e achocolatadas águas do Rio Madeira.
Tomamos o navio em Manaus, no período da cheia do longevo ano de 1954, com destino a Porto Velho. A viagem duraria entre quatro e cinco dias, com algumas paradas nas cidades portuárias que margeavam o rio. De Porto Velho, seguiríamos de trem para a Colônia Agrícola do IATA, no município de Guajará-Mirim, ponto final de nossa viagem, iniciada em Pirangi, no Ceará.
Como falei, o período era de cheia e chuvas torrenciais dificultavam o deslizar da embarcação pelas águas do Madeira. As ondulações provocadas pelos banzeiros e ventos fortes tornavam nossa viagem um pandemônio. As crianças regurgitavam como se fossem periquitos empapados de mingau e os adultos evitavam as redes, amarradas parecendo um emaranhado de teia de aranha por toda parte da embarcação.
Não tínhamos redes para toda a família. Meu esposo amarrou as que haviam para nossos filhos, uma ao lado das outras, e nós dois nos ajeitamos no assoalho da embarcação, bem embaixo das redes, sentindo o cheiro e o ressonar das crianças.
Deitei-me embaixo da rede do primogênito, de maneira que pudesse balança-lo suavemente para que adormecesse logo. Nesta noite, o banzeiro estava mais intempestivo, provocando apreensão nos passageiros, inclusive em minhas crianças.
As redes balançavam acompanhando a cadência e as ondulações provocadas pelos banzeiros, quando fomos surpreendidos por um solavanco forte que açoitou o casco da velha embarcação provocando um alvoroço desmedido, e o entrechoque das redes, das pessoas e dos objetos.
Meio sonolenta e atordoada, e ainda segurando a franja da rede do meu filho, senti pela primeira vez o sopro medonho da morte a provocar-me calafrios. Nesta confusão e tateando no escuro, procurei por ele no fundo da rede e só encontrei sua fria manta e a sua chupeta que comprei no Ceará. Os solavancos e as ondulações provocados pelo banzeiro jogou meu filho nas profundas e friorentas águas do Madeira.
Supliquei, implorei, me dilacerei, mas a embarcação seguiu descortinando a noite escura como breu, açoitada pela chuva, pelo vento, relâmpagos e trovões, abafados pelo meu grito que estremeceu a floresta, as águas e que ainda ecoa insone, perene e agoniza feito redemoinho solto dentro de mim.
Muitos anos depois, mirando o pôr do sol às margens do Madeira em Vila Murtinho, vislumbrei por entre os raios multicores, um boto-cor-de-rosa sorrindo para mim, com um singelo e encantador sorriso de criança.
O FACEBOOK anunciou que dois plugins sociais — o botão "Curtir" e o botão "Comentar" — foram descontinuados desde 10 de fevereiro de 2026.
Você acha que o Brasil vai ser hexa nesta Copa do Mundo?
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!
MAIS NOTÍCIAS
© 2005 - 2026, Rondoniaovivo.com. Todos os direitos reservados - CNPJ: 08.742.048/0001-87